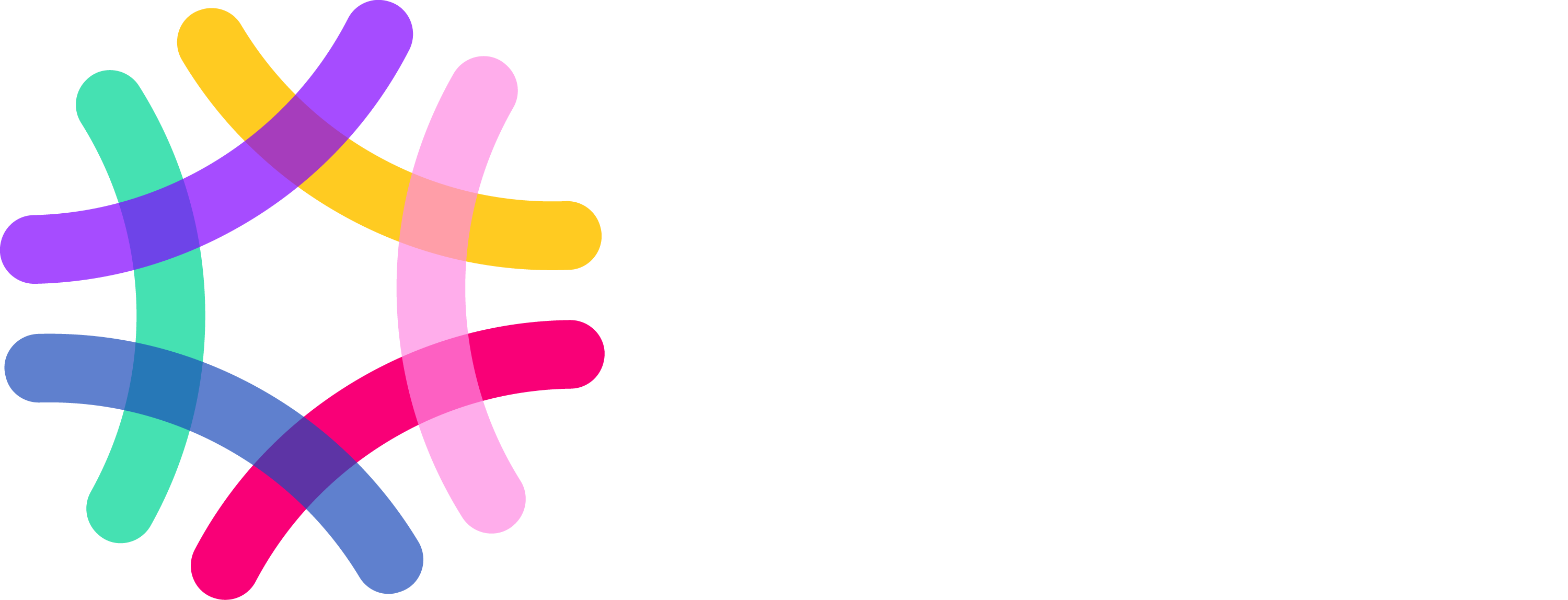Vítor Lopes de Souza Alves é mestre em Economia pela Universidade Estadual de Campinas (2020) e bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Minas Gerais (2017). Atualmente, está cursando o doutorado em Economia pela Unicamp. É pesquisador do Centro de Estudos de Relações Econômicas Internacionais (CERI), do Instituto de Economia da Unicamp. Atua principalmente nas seguintes áreas: Economia Política, História do Pensamento Econômico, Economia Brasileira e Macroeconomia.

Renan Ferreira de Araujo é mestre em Economia pela Unicamp (2019) e graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (2017). Atualmente, também é doutorando em Economia pela Unicamp e pesquisador do CERI/IE-Unicamp. Suas principais áreas de pesquisa são: Teoria Monetária e Financeira, Economia Política, Economia Internacional e Macroeconomia.
IDeF – Vocês são autores, junto com demais pesquisadores, sobre o estudo intitulado “Política econômica em tempos de pandemia: experiências internacionais selecionadas” publicado em maio de 2020. O impacto econômico da pandemia tem preocupado muitos governantes, mas também a população como um todo e alguns impactos negativos já podem ser vistos.
No dia 6 de maio, o Congresso Nacional aprovou lei complementar que prevê auxílio financeiro para estados e municípios de até R$ 125 bilhões frente à pandemia. Qual a importância dessa medida e seus resultados efetivos?
Os entes subnacionais, contrariamente ao governo federal, não dispõem da possibilidade de emitir moeda, nem da de tomar empréstimos por meio da venda de títulos públicos. Assim sendo, eles têm na tributação a sua única fonte autônoma de financiamento: a receita dos estados advém sobretudo da cobrança do ICMS e do IPVA, e a dos municípios, do ISS e do IPTU. É apenas com base nesses recursos que eles podem efetuar as suas despesas, cumprindo com as obrigações que lhes são próprias, por exemplo: pagamento de salários ao funcionalismo público e aquisição dos materiais necessários à prestação dos serviços públicos (máquinas, material escolar, material médico-hospitalar etc.), entre outros.
Como consequência da pandemia e da queda da atividade econômica por ela provocada, verifica-se uma redução do montante de impostos arrecadados: dado que esses tributos incidem, em parte significativa, sobre os bens e serviços produzidos, seu valor total sofre redução em decorrência da contração da produção dos mesmos (um breve exemplo disso: o estado de São Paulo teve uma queda na arrecadação de ICMS de 19% no mês de abril de 2020 em comparação com o mesmo mês de 2019). Nessa situação, a única maneira de viabilizar as finanças estaduais e municipais, de modo a impedir, por exemplo, que os funcionários sejam demitidos ou tenham seus salários cortados e que os serviços públicos sejam prestados em qualidade e/ou quantidade inferiores, consiste na realização de um repasse monetário extraordinário do governo central aos governos locais.
O auxílio financeiro em questão, que foi concedido através da Lei Complementar n.⁰ 173, pode ser encarado sob duas principais frentes, que estão de acordo com as políticas internacionais observadas nesse mesmo sentido: i) a renegociação e/ou suspensão de dívidas com a federação ou intermediadas por ela e ii) o repasse direto de R$ 60 bilhões, sendo R$ 50 bilhões para livre aplicação e R$ 10 bilhões exclusivamente para políticas de saúde e assistência social.
É importante reconhecer que a sua aprovação foi possível, sobretudo, graças à pressão realizada por governadores e prefeitos e ao empenho manifestado por parlamentares federais, tendo ocorrido a contragosto do governo federal, que procurou colocar empecilhos à sua tramitação, trabalhou pela redução do valor concedido e atrasou a sanção da lei. Um ponto criticável do auxílio é o fato de a sua concessão ter sido vinculada, no próprio texto da lei, a alguns condicionantes condenáveis do ponto de vista dos direitos trabalhistas, como a proibição a estados e municípios do reajuste das remunerações dos servidores públicos e da realização de novos concursos públicos até o final de 2021.
Além disso, malgrado tenha sido aprovado, ele não impediu que estados e municípios – muitos dos quais já se encontravam fortemente debilitados antes mesmo da ocorrência da pandemia – viessem a se deparar com novas dificuldades financeiras, o que nos leva à conclusão de que, embora tenha sido de importância crucial, seu valor foi insuficiente. Por fim, cumpre notar que, ainda não existindo indícios de uma recuperação consistente da atividade econômica e, consequentemente, da arrecadação estadual e municipal, provavelmente serão necessárias novas ações de socorro por parte do governo federal.
Na conclusão do estudo vocês afirmaram que “o distanciamento social adotado no início do processo de contágio e de maneira rigorosa, aliado a medidas econômicas de suporte a trabalhadores e empresas, pode assegurar que as atividades econômicas sejam retomadas mais rapidamente”. No entanto, ainda no início desse cenário de pandemia, muitas localidades não realizaram um distanciamento rigoroso e neste momento atual já estamos presenciando a abertura de estabelecimentos e a flexibilização desse distanciamento. Há também o fato de que o próprio Presidente da República critica os governantes que tomaram e tomam medidas mais radicais e a questão do auxílio emergencial do Governo Federal à pessoas e às empresas que teve vários problemas na sua execução. Como vocês avaliam esse cenário no Brasil? Essa situação impacta de alguma forma a economia e interfere na retomada econômica?
No Brasil, de modo geral, as duas políticas públicas que consideramos importantes para o enfrentamento da pandemia e de seus efeitos econômicos – o distanciamento social imediato e rigoroso e as medidas de suporte econômico –, quando não simplesmente faltaram, foram insuficientes. Por um lado, não se realizou o distanciamento social na intensidade que seria necessária para barrar a transmissão do vírus; por outro lado, o auxílio emergencial teve valor baixo em comparação com outros países (R$ 600 mensais) e houve dificuldade em dar acesso ao crédito em condições favoráveis às pequenas e médias empresas, o que fez com que muitas pessoas tivessem de continuar trabalhando (e, consequentemente, viessem a se contaminar e, eventualmente, adoecer e morrer) e com que muitos negócios tivessem de ser fechados. O resultado disso é a dupla tragédia que temos presenciado: mais de 125 mil vidas perdidas até o momento e a mais brutal recessão da nossa história (no dia 1/9, o IBGE divulgou que o PIB brasileiro sofreu um declínio de 11,4% no segundo trimestre de 2020 em comparação com o mesmo período do ano anterior).
Em nosso trabalho, chamamos a atenção para o fato de que o governo brasileiro pregava a existência de uma dicotomia entre saúde e economia que, a nosso juízo, era falsa. Alegava-se que, caso se desejasse preservar as vidas, dever-se-ia admitir uma queda da atividade econômica, e caso se quisesse preservar a atividade econômica, dever-se-ia abrir mão das vidas – e, o que é chocante, o governo federal, ou pelo menos o presidente da República em particular, tendo por base essa leitura errada da realidade, declarava-se adepto da segunda opção. O que pudemos ver na prática, como resultado da inação governamental, foi o pior de cada um dos dois mundos considerados possíveis: tanto as vidas como a produção, a renda e o emprego foram duramente afetados. De modo contrário, os países que lograram conter a disseminação do vírus rapidamente, fornecendo aos seus cidadãos condições efetivas de realizarem o distanciamento social, através da adoção de políticas de garantia da renda dos trabalhadores e da solvência das empresas, não apenas vieram a ter um número de mortes significativamente menor, como também puderam reativar mais prontamente seu conjunto de atividades, experimentando quedas menos expressivas dos indicadores econômicos. O desenrolar dos acontecimentos acabou provando a correção da leitura que enxergava uma complementaridade, e o equívoco daquela que via uma exclusão ou rivalidade, entre os problemas sanitário e econômico.
Espera-se uma maior atuação do Estado brasileiro na retomada econômica. Mas a situação de endividamento e de arrecadação é crítica no país. Qual seria a melhor forma de garantir essa retomada econômica e qual o papel de estados e municípios dentro desse processo?
A necessidade de uma recuperação econômica no País, bem como o debate a respeito de quais seriam os meios mais apropriados para promovê-la, não são questões suscitadas tão-somente pela ocorrência da pandemia neste ano de 2020. A economia brasileira vem de três anos de baixo crescimento (aproximadamente 1% em 2017, 2018 e 2019), seguindo a dois anos de recessão (aproximadamente -3,5% em 2015 e 2016). Em 2020, a pandemia apenas fez por agravar uma má situação que já estava posta. A nosso juízo, esse cenário é uma consequência direta das opções de política econômica, notadamente de caráter liberal, que vêm sendo escolhidas pelo governo brasileiro desde 2015 – perpassando, portanto, o segundo governo Dilma e os governos Temer e Bolsonaro.
A concepção existente por detrás dessas políticas advoga a necessidade da austeridade fiscal, com a consequente saída de cena do Estado, como meio para a promoção do crescimento econômico. Entende-se que se o governo reduzir os seus gastos, de modo a equilibrar as suas despesas com a sua receita tributária e a tornar possível a realização de superávits primários para o pagamento dos juros da dívida pública, a confiança dos agentes econômicos na capacidade fiscal do setor público se ampliará. Consequentemente, deverá ocorrer uma queda das taxas de juros, a começar pela redução dos juros rendidos pelos títulos públicos, o que implicará uma elevação do investimento privado, acarretando, por fim, o crescimento da produção, da renda e do emprego. Eis, em resumo, a teoria na qual acreditam os ministros Joaquim Levy, Henrique Meirelles e Paulo Guedes e que dá justificativa para medidas como o Teto de Gastos e a Reforma de Previdência, ambas tomadas com os objetivos de, respectivamente, limitar e reduzir o gasto público.
Um breve olhar para a realidade atual, no entanto, é o bastante para comprovar que essa é uma lógica falaciosa. Em virtude da necessidade de realizar gastos extraordinários para fazer frente aos efeitos da pandemia, o governo federal decretou estado de emergência, obtendo permissão para furar o Teto no exercício de 2020. Como consequência, deveremos ter neste ano o maior déficit fiscal da nossa história (próximo a R$ 1 trilhão). Não obstante, ao contrário do que se deveria esperar como resultado desse enorme desequilíbrio fiscal, a taxa de juros encontra-se no seu menor nível histórico. E mais uma vez, não obstante, ao contrário do que se esperaria como efeito desses juros extremamente baixos, o investimento como percentual do PIB também se encontra nos menores patamares já verificados. O déficit público não está conduzindo a uma explosão dos juros, nem os juros baixos estão despertando os ânimos dos investidores.
Na realidade, o que em geral se verifica em contextos recessivos como o atual – e Keynes já nos esclareceu a respeito disso em sua obra de 1936 – é que a incerteza sobre o comportamento futuro da economia prevalente em tais momentos leva ao aumento da preferência pela liquidez (isto é, a retenção de moeda) por parte dos agentes privados, ocasionando uma contração do gasto por eles realizado, sobretudo do investimento. Isso acaba por acarretar um nível da demanda agregada efetiva inferior ao que seria compatível com a oferta de pleno emprego, situação esta que tende a se manter no tempo. A reversão desse quadro só pode ser obtida mediante a intervenção de um agente que tenha a capacidade de gastar e que não tenha medo de o fazer – o próprio governo. Ao gastar, o governo amplia o nível da demanda global, proporcionando inclusive uma melhora da percepção dos investidores sobre o ambiente econômico: estando seguros de que conseguirão vender mais dos seus produtos, estes passam a ter uma razão para investir, produzir e contratar mais. Portanto, segundo essa concepção, a retomada econômica exige que o Estado entre em cena.
A macroeconomia keynesiana também entende que não há razão para desejar que o orçamento público esteja sempre equilibrado, ponderando que não há problema em produzir déficits fiscais caso se tenha por objetivo promover o pleno emprego. Em circunstâncias de subemprego, portanto, o governo deve contrair empréstimos ou emitir moeda, a fim de que possa aumentar os seus gastos. Ademais, ao contrário do que a teoria liberal prega, não é necessário temer que, como resultado da ampliação do endividamento, o governo venha a ficar insolúvel, tornando-se incapaz de quitar sua própria dívida, pois ela é liquidada na moeda que ele mesmo tem o poder de criar; nem se deve ter o receio de que, em virtude da emissão monetária, advenha inflação. Não apenas a formulação teórica, mas também a experiência prática nacional e internacional, nos asseguram que, em momentos recessivos, a opção por elevar a relação dívida/PIB e/ou por aumentar a quantidade de moeda existente não provoca uma escalada do nível de preços. É de se notar, por exemplo, que o déficit fiscal quase trilionário previsto para este ano está coexistindo com uma estimativa de inflação em torno de 2%, um valor inferior à própria meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional.
Apoiados sobre essa segunda forma de compreender o funcionamento da economia, que consideramos a mais acertada, acreditamos que a recuperação econômica brasileira depende, de início, de uma completa revisão da concepção teórica desposada pelos formuladores das políticas econômicas no País. O crescimento da nossa economia requer a tomada de políticas monetárias e fiscais expansionistas pelo governo federal, fazendo-se absolutamente necessária a revogação do Teto de Gastos. Caso este volte a viger no ano que vem, não apenas o Estado brasileiro se tornará progressivamente incapaz de cumprir suas funções sociais previstas na Constituição Federal (saúde, educação, segurança, previdência etc.), como também será impossível promover a retomada econômica. Nesse sentido, vemos com bons olhos o fato de que um certo círculo de economistas liberais, antes adeptos do Teto, já esteja colocando em debate a capacidade deste de estimular o crescimento, apesar de o Ministério da Economia se mostrar irredutível na defesa de sua permanência.
Por fim, diante do que dissemos, cumpre reconhecer que os estados e municípios têm uma capacidade bastante limitada de contribuir com o propósito do crescimento econômico, haja vista que este depende sobretudo do exercício de funções exclusivas do governo central. Dado que as operações com a dívida pública e a moeda nacional (o Real) constituem um monopólio da esfera federal, apenas ela tem o poder de executar políticas monetárias e fiscais relevantes. Sem embargo, cabe aos governos locais a definição de políticas secundárias, bem como a execução de certas políticas que são desenhadas pelo governo federal, podendo assim dar a sua contribuição dentro de seus limites.
É dito que existem dois momentos de impacto da pandemia na economia, o 1º que duraria cerca de 3 a 6 meses com a paralisação das atividades econômicas e o 2º – 6 meses a 2 anos – em que teria uma retomada gradual, mediante a diminuição do contágio da COVID-19 nas localidades. Seria dessa forma? Em que fase do impacto econômico estaria o Brasil?
Este seria o cenário ideal ou mais lógico, aquele que traria os melhores resultados tanto no que diz respeito à saúde pública como no que se refere à economia, e que deveria ter ocorrido caso as medidas adequadas – o distanciamento social e o apoio aos agentes econômicos – tivessem sido tomadas nas magnitudes apropriadas pelo governo brasileiro. Foi isso o que verificamos, por exemplo, nos principais países europeus (Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália) e em vários outros países do mundo. Num primeiro momento, essas nações paralisaram drasticamente suas economias a fim de promoverem confinamentos efetivos de suas populações, os quais foram chamados pelo termo inglês lockdown. Desse modo, conseguiram provocar quedas satisfatórias nas curvas de contágios diários pelo novo coronavírus e de mortes diárias pela covid-19, chegando a conter de fato a virose. Apenas depois disso é que foram dar início, num segundo momento, à reativação das suas atividades econômicas, o que também puderam realizar com certa efetividade, tanto porque o fizeram num contexto de relativa segurança sanitária, como porque haviam tomado, no momento anterior, medidas eficazes para preservar a integridade dos atores produtivos (trabalhadores e empresas). O que hoje preocupa esses países é a possibilidade de uma segunda onda de contágios, a qual, no entanto, estão conseguindo deter até o momento.
No Brasil, a paralisação econômica inicial foi muito mais branda, de modo que o distanciamento social passou longe de ser praticado com a intensidade necessária. Em razão disso, as curvas de contaminados e de mortos não cederam. Ainda hoje, no início de setembro, nos encontramos sobre o platô iniciado no final de maio, que registra cerca de 1000 mortes diárias no País. Não podemos nos dar o luxo de nos preocuparmos com uma segunda onda da doença, já que ainda sequer superamos a primeira. De sua parte, as atividades econômicas brasileiras, embora não tenham sido submetidas à mesma interrupção brusca imposta pelos países mencionados, acabaram sendo ainda mais prejudicadas do que as desses países. Uma das razões para isso é que diversos setores econômicos – pense, por exemplo, no cinema de um shopping –, ainda que tenham permissão legal para funcionar, não obterão a mesma demanda do público enquanto a situação sanitária não estiver sob controle. Em outras palavras, por mais que as lojas possam abrir as suas portas, elas não voltarão a receber a mesma quantidade de clientes de antes enquanto a maior parte das pessoas não se sentir segura para frequentar os comércios. Mais uma vez, fica claro que a negligência com o problema sanitário vai no sentido não de uma amenização, mas de um agravamento do problema econômico. A economia poderia estar funcionando relativamente bem hoje caso tivéssemos optado por fechá-la radicalmente por um curto período no passado; como isso não foi feito, ela tem funcionado mal já há um tempo prolongado, o que acabou sendo pior. Uma segunda razão para o maior abatimento experimentado pela economia brasileira está no fato de que os agentes econômicos brasileiros não receberam um suporte governamental adequado para contornar as suas dificuldades momentâneas. Por exemplo, muitas das pequenas e médias empresas do País, enfrentando reduções de suas vendas e estando impossibilitadas de acessar o crédito, não puderam seguir cumprindo com as suas obrigações financeiras fixas (por exemplo, o pagamento de aluguéis) e acabaram por decretar falência. De modo geral, portanto, devido à insuficiência das políticas sanitárias e econômicas, o quadro brasileiro atual é de não superação da pandemia e de ausência de perspectivas de uma recuperação econômica consistente (espera-se, nas previsões mais otimistas, que o PIB brasileiro caia ao menos 5% em 2020 e apresente em 2021 crescimento inferior à queda observada).
Sabemos hoje, com base nas experiências internacionais mais bem-sucedidas, que a primeira fase mencionada no trabalho, destinada à contenção da transmissão do vírus, poderia durar menos que 3 meses. No entanto, também aprendemos que o retorno às condições econômicas prévias à pandemia não poderá sobrevir meramente disso, pois o distanciamento social, por mais severo e agudo que seja, não chega a eliminar completamente o vírus, deixando sempre a possibilidade de que novas ondas virais ocorram após o controle da primeira onda. É por isso que, por exemplo, atividades em que há maior propensão à contaminação, como os eventos esportivos, seguem fechadas ao público nos países europeus. Ficou claro que a retomada completa das economias, ou a chamada volta ao antigo normal, pressupõe a imunização coletiva das populações, a ser obtida após a disponibilização de alguma vacina eficaz, que hoje é estimada para meados de 2021.
Em relação às experiências internacionais, que consiste no enfoque do estudo de vocês, quais medidas econômicas têm dado mais certo? O Brasil tem condições de replicar essas medidas no país?
No nosso entendimento, as medidas econômicas a serem adotadas por cada país deveriam contemplar principalmente três finalidades: a garantia da proteção social dos trabalhadores, a garantia da solvência das empresas produtivas e a garantia da estabilidade dos sistemas financeiros. A fim de conter os contágios e as mortes, fazia-se necessário interromper a circulação das pessoas, o que, por sua vez, obrigava uma suspensão temporária das atividades produtivas. Diante disso, os governos nacionais deveriam fornecer aos agentes econômicos (trabalhadores, empresas, bancos etc.) as rendas que eles costumavam auferir e que tinham sua origem na produção.
Aos trabalhadores, que teriam de deixar de trabalhar e receber salários, devia ser dada, no mínimo, uma renda compatível com as suas necessidades de subsistência, de modo a evitar a sua morte e a lhes prover condições minimamente dignas de vida. Às empresas, que deixariam de produzir e vender seus bens e serviços, tinha de ser concedida uma oferta de crédito equivalente aos custos que elas ficariam incapacitadas de honrar (por exemplo, os aluguéis e os fornecedores ainda não pagos), evitando-se assim a sua falência. Por fim, com relação aos detentores de títulos financeiros, cujos preços deveriam sofrer uma queda brusca em virtude do necessário colapso produtivo, cumpria evitar sua perda de riqueza através da aquisição desses títulos pelos seus preços anteriores.
Ao tomarem essas medidas de caráter emergencial e provisório, os Estados estariam garantindo a reprodução social de uma economia capitalista sem produção. Os agentes dessa economia continuariam a existir no tempo, e, tão logo a pandemia estivesse sob controle, eles poderiam voltar à cena produtiva, ao passo que então o Estado se veria livre dessas obrigações extraordinárias. É claro, na fase de desmobilização dos elementos produtivos, os setores produtores de bens essenciais, como alimentos e medicamentos, deveriam continuar operando.
Qualquer Estado soberano que emita sua própria moeda – e o Brasil é um deles – tinha plenas condições de adotar todas essas políticas nas amplitudes em que elas se mostrassem necessárias. Se um governo dispõe das possibilidades de contrair empréstimos e de criar dinheiro, bastam a ele vontade e competência políticas para executar as medidas cabíveis. Para nós, portanto, é completamente falsa a ideia de que o Estado brasileiro não poderia fazer o mesmo que, por exemplo, Inglaterra e França estavam fazendo, devido ao fato de que somos um país mais pobre.
É preciso reconhecer que o governo brasileiro adotou políticas em todos esses sentidos. No entanto, elas não tiveram as magnitudes necessárias e apresentaram várias falhas em sua aplicação. Por exemplo, com relação ao auxílio emergencial concedido às pessoas físicas, seu valor foi baixo (R$ 600 por mês) em comparação com o que foi facultado por outros países, sua aprovação demorou a ocorrer e sua execução foi caótica: poderiam ter sido enviados cartões de débito pelos correios, tal como foi a regra em muitos países, evitando-se a formação de filas nas portas das Caixas Econômicas Federais. Com relação às pessoas jurídicas, as medidas de concessão de crédito às empresas não foram efetivas, sobretudo, como já dissemos anteriormente, no que se refere às pequenas e médias empresas, que vêm passando por uma onda de falências no País. Ao que nos parece, apenas o setor financeiro brasileiro foi adequadamente contemplado.
Por fim, além de tudo isso, faltou-nos o mais básico: uma campanha séria de conscientização e de estímulo à população para a realização do distanciamento social, afinal, todas as medidas acima referidas deveriam ter justamente o propósito de viabilizar este último. Com efeito, o governo federal atuou no sentido contrário, com o próprio presidente Bolsonaro subestimando a letalidade da covid-19 em pronunciamento oficial (chamando-a de “gripezinha”) e promovendo diversas aglomerações. Foram raríssimos, no contexto internacional, os paralelos observados com essa postura negacionista.
Em alguns países temos casos em que seus estados/províncias possuem um certo tipo de autonomia frente ao governo central. Essa atuação descentralizada que vimos no Brasil, com governadores tomando medidas totalmente contrárias ao governo federal, também tem ocorrido em outros países? O que funciona melhor, o centralismo ou a descentralização, principalmente para a recuperação econômica?
O Brasil foi um caso raro de desarticulação entre as diferentes esferas de poder. Algo semelhante, porém em intensidade menor, foi verificado nos Estados Unidos, onde o negacionismo do presidente Trump chocou-se com as práticas protetivas dos governadores democratas. Lá, no entanto, ao contrário daqui, as medidas de apoio econômico aos diversos agentes tomadas pelo governo central foram amplas e eficazes, muito embora este tenha igualmente desdenhado da gravidade da pandemia e falhado em convocar sua população ao distanciamento.
É preciso entender que, no caso específico do enfrentamento de uma pandemia, os entes subnacionais não possuem total autonomia para adotarem as medidas que julgarem mais adequadas. Um governador de estado não pode obrigar a sua população a evitar o trabalho e ficar em casa caso ela não venha a ser assistida por repasses monetários. Também não pode determinar que os empresários locais suspendam subitamente a operação de seus negócios sem lhes garantir auxílios financeiros. Mais uma vez, apenas o governo federal, que monopoliza os principais dispositivos monetários e financeiros, tem a capacidade de apoiar economicamente trabalhadores e empresas, e sem esse suporte é impossível promover o distanciamento social. Nesse sentido, se um estado agisse sem a cooperação do ente superior, ele estaria apenas condenando seus habitantes à fome e suas empresas à bancarrota.
Isso posto, temos de reconhecer que, no caso brasileiro, a insuficiência das políticas federais de assistência aos trabalhadores e às empresas, bem como a exiguidade do auxílio financeiro concedido a estados e municípios através da aprovação de lei complementar, constituíram fatores limitantes à capacidade de ação das esferas locais de poder. A esse respeito, foi notório que todos os estados da federação, inclusive aqueles governados por partidos de esquerda, tiveram de iniciar a reabertura de suas economias – que já não haviam sido fechadas adequadamente em muitos casos – quando as curvas de contágios e mortes diários ainda estavam ascendendo, portanto bem antes do momento ideal, o que fizeram, em geral, a contragosto (lembremos que o STF outorgou aos estados e municípios a responsabilidade jurídica pela determinação da suspensão das atividades econômicas).
Não entendemos, portanto, que os governos estaduais tenham de fato realizado uma atuação descentralizada, dados os impedimentos a isso que mencionamos, mas sim que as ações que eles se propuseram a fazer foram inviabilizadas pela falta de uma articulação adequada com a esfera federal. Além disso, a sociedade em geral acabou sendo confundida acerca das responsabilidades específicas da União, dos estados e dos municípios: o governo federal, utilizando-se da falsa retórica de que as unidades subnacionais ganharam autonomia para decidir sobre o enfrentamento à pandemia, procurou imputar aos estados e municípios uma responsabilização política pelos maus resultados sanitários e econômicos que não lhes cabe, uma vez que, em verdade, foi ele mesmo que deixou de cumprir com as suas funções.
Por fim, com relação à promoção da recuperação econômica, reconhecemos, novamente, que ela depende de medidas que estão, pela maneira como os Estados nacionais em geral se configuram jurídica e politicamente, centralizadas na esfera superior de poder. Assim sendo, não se trata de defender o centralismo ou a descentralização, mas de compreender aquilo que está ao alcance de cada ente.