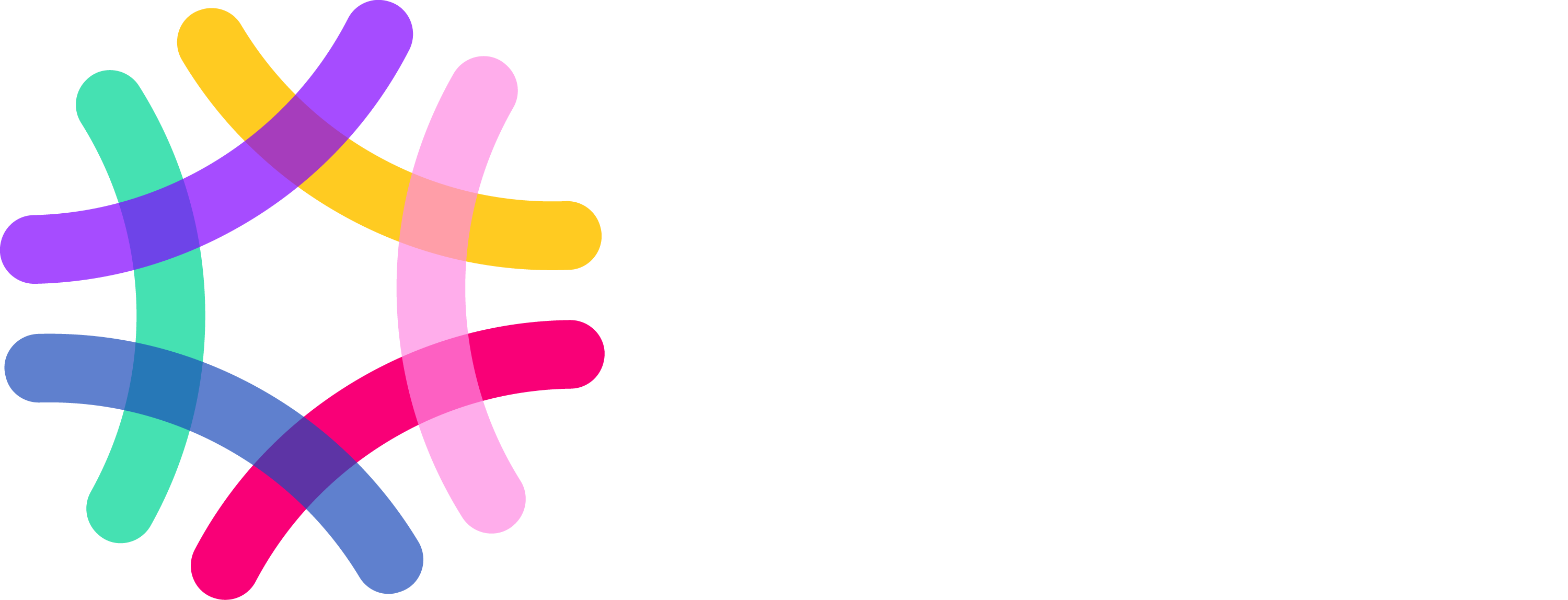Rita de Cássia Melo Santos possui graduação em História pela Universidade Federal de Pernambuco (2007), mestrado em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2011) e doutorado em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2016). Tem experiência na área de História e Antropologia, atuando principalmente nos seguintes temas: coleções etnográficas, museus, imagens, populações indígenas, história da ciência e antropologia e educação. Atualmente é docente no Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e uma das coordenadoras do Observatório Antropológico do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFPB – um projeto que busca mapear e fortalecer ações voltadas para o auxílio de comunidades com problemas sociais agravados pela crise do COVID-19 (https://observantropologia.wixsite.com/ufpb).
O Observatório Antropológico tem como alvo identificar e auxiliar grupos em situações de vulnerabilidade e iniciativas voltadas para a mitigação dos problemas sociais agravados pela pandemia do COVID-19. Para isso o observatório conta com a colaboração de pesquisadores de diferentes áreas, estudantes, Organizações Não-Governamentais (ONGs). Como surgiu a ideia do projeto e como o Observatório funciona?
Rita de Cássia – A ideia do observatório emergiu junto com a pandemia, por volta de março desse ano (2020), e ocorreu, digamos assim, frente ao que a gente foi percebendo de avanço de uma situação crítica. Em fins de dezembro (2019), todo mundo já tinha notícia da pandemia, mas eram notícias muito pontuais, como uma crise sanitária da China. Inicialmente temos que lembrar que o coronavírus não era uma pandemia e sim um surto localizado em determinada região da China e, naquele momento, não parecia ser um problema mundial, até que chegou na Europa, no início do ano, e foi se tornando um assunto recorrente. O grau, digamos assim, da devastação humana, foi se tornando mais visível para o mundo apenas em março (2020), especialmente quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou estado de pandemia. Naquele momento a gente entendeu que havia um problema que nós, nas Ciências Sociais, entendemos como um problema social.
A pandemia tem uma taxa de mortalidade, mas essa taxa prevalece entre populações que têm menos acesso a saúde e menos condições de adotar as medidas de combate à infecção viral. Então, já parecia muito claro que populações indígenas, populações quilombolas, ciganos e populações periféricas urbanas teriam mais dificuldades de seguir as medidas recomendadas devido às dificuldades materiais em seguir as medidas necessárias a sua prevenção. Quando falamos para evitar encontrar pessoas, só é possível fazer isso se você tem condições de exercer trabalho remoto, porque se você trabalha na rua, isso se torna muito difícil. Outra situação é a fala de que se alguém tiver doente na sua casa, infectado, isole-a. Isso pressupõe que a casa tenha mais de um cômodo, o que denota condições que nem todas as populações possuem.
Além disso, essas populações já vinham sofrendo pela retração do sistema público. Nesse sentido, temos que lembrar da retração de recursos para o atendimento pela FUNASA e pelo SUS nos últimos anos. A questão da demarcação territorial não avançou e com isso a gente tem as populações indígenas sem territórios demarcados, o que facilita a ocupação desse espaço por outras populações. Logo, tem uma série de situações que a gente, por lidar, estudar e se relacionar com essas populações há tanto tempo, já sabíamos que seria muito difícil de cumprir. Isso também foi agravado pela demora com que o poder público reagiu à questão – com a demora na efetivação do benefício emergencial e a sua implementação, os protocolos de segurança e a questão da tradução desses códigos para as linguagens locais. Então vimos ali um espaço necessário de atuação.
Já parecia muito claro que populações indígenas, populações quilombolas, ciganos e populações periféricas urbanas teriam mais dificuldades de seguir as medidas recomendadas
O observatório foi pensado não como uma atividade centralizadora, mas, como um trabalho colaborativo com pesquisadores em diferentes níveis de formação e áreas, o que nos permite trabalhar em campos e grupos populacionais diversos. Temos o grupo de trabalho (GT) indígena, o grupo de trabalho quilombola e o GT saúde que foram mobilizadas por causa da pandemia. Nesses grupos não há pesquisadores que iniciaram os seus trabalhos quando começou a pandemia. São pesquisadores que já tinham uma trajetória de pesquisa e que se dispuseram, nesse momento, a somar forças no combate aos efeitos da crise. Temos também mestrandos e doutorandos, além de alunos de graduação, que atuam nesses diferentes grupos, e estamos sempre discutindo a pertinência da adoção de mais grupos de trabalho direcionados a frentes específicas. Todo trabalho é coletivo e colaborativo e passa pela coordenação, eu, Patrícia Pinheiro e Aina Azevedo, mais numa dimensão organizativa do que necessariamente de uma chefia centralizadora.
Tem uma série de situações que a gente, por lidar, estudar e se relacionar com essas populações há tanto tempo, já sabíamos que seria muito difícil de cumprir.
No observatório desenvolvemos um conjunto muito amplo de atividades. Um exemplo, é o trabalho de acompanhamento do avanço do Covid-19 entre indígenas Potiguara e Tabajara desenvolvido pelos professores Estevão Palitot e Anderson Alves dos Santos (ambos, CCAE/UFPB) junto com o PET Indígena – que já era um grupo de trabalho formado por estudantes indígenas da UFPB. Existe também o acompanhamento das políticas públicas e, quando elas não são satisfatórias para essas populações, nós temos tentado mediar essa conversa. Fazemos também algumas campanhas informativas. Tem uma campanha muito bonita que pode ser vista no Instagram e redes sociais, que foi produzida a partir de um cordel de sensibilização para os efeitos da pandemia criado por Ivanilda Gusmão, de Mituaçu, e que a equipe do observatório transformou em um vídeo com desenhos da professora Aina Azevedo. Assim, tendemos buscar uma aproximação com as linguagens utilizadas pelos próprios atores, porque muitas vezes sentimos que as campanhas mais genéricas não atingem esses públicos.
Em paralelo, temos também os podcasts desenvolvidos pelo Observatório, em que buscamos discutir com professores e pesquisadores os impactos da pandemia; e com os estudantes, os efeitos da pandemia em suas pesquisas. Esses podcasts se chamam “Pílulas Antropológicas” e “Antropologia à conta gotas” estão disponíveis em diversas plataformas, entre elas o Spotify. A ideia é que avancemos na criação de reportagens pois sentimos que as reportagens que estão sendo feitas são insuficientes posto que junto com a pandemia do COVID-19 há também uma “infopandemia”, que seria uma onda de informações que muitas vezes podem mais atrapalhar do que ajudar. Por isso, precisamos realmente fazer um fluxo de informações positivas, acessíveis e que consiga fazer essa chave entre o leitor e aquilo que é transmitido. Ademais, temos feito ações de captação de recursos para distribuição de itens emergenciais, como álcool e máscaras. Portanto, são muitas frentes de atuação – a pesquisa, as ações diretas e a produção de conteúdos informativos – e é no encontro desses lugares que nos situamos.
O observatório se diferencia em relação a outros projetos porque foca também em populações quilombolas, indígenas e comunidades ciganas da Paraíba. Explica para gente a abrangência do projeto e a relevância e os desafios de mapear casos de COVID-19 nessas comunidades.
Rita de Cássia – A abrangência, como havia falado, reflete a estrutura do próprio observatório. São 36 pesquisadores, entre professores, pós-doutora, doutorandos, mestrandos e graduandos. De modo geral as pesquisas se agrupam em linhas de atuação bem diversas, com um forte eixo étnico-racial e de saúde. A inclusão das populações apontadas reflete, por um lado, a composição do observatório e, principalmente, o entendimento de que essas populações são as mais atingidas pelos efeitos da pandemia em virtude das suas condições de moradia, acesso à saúde e as formas de obtenção de renda.
Os desafios são enormes, no sentido de que é uma abrangência muito grande de populações. São regiões muito diferentes, acompanhamos desde populações ciganas em Sousa, aos indígenas Potiguaras em Rio Tinto, Marcação e Baía da Traição. Então geograficamente também é bastante abrangente. Logisticamente falando só temos conseguido realizar esse mapeamento e acompanhamento porque estamos mobilizando essa rede de pessoas das próprias comunidades para trabalhar junto com a gente e muitos são universitários que já tem uma formação técnica para executar esse trabalho. Isso foi fundamental. A presença dos estudantes universitários da UFPB e dos pós-graduandos que já vinham desenvolvendo trabalhos é bastante importante pra gente!
Recentemente vocês buscaram financiamento internacional pela Agência Universitária da Francofonia (AUF), que visa apoiar projetos universitários relacionados à pandemia. Por que vocês foram buscar esse apoio fora do país e não internamente (junto a governos e empresas locais, por exemplo)? E como ocorreu esse processo de financiamento?
Rita de Cássia – As principais agências de fomento à pesquisa são as agências como a CAPES e o CNPq; e, as fundações estaduais, como a FAPESQ (da Paraíba). Nos últimos anos tem havido uma redução significativa dos editais e dos recursos provindos dessas agências e, quando esses editais e recursos são liberados, no caso das agências nacionais, eles visam o âmbito da pesquisa científica propriamente dita, mais do que ações como essa que propomos com os recursos da AUF.
Nas primeiras avaliações que fizemos das situações existentes percebemos a necessidade muito grande de materiais de limpeza e higienização que não estava chegando às comunidades. Algumas iniciativas de distribuição de alimentos – entre os Potiguaras, por exemplo – têm conseguido montar cestas básicas, mas não a inserção de quites de higiene. Então verificamos que era algo emergencial inserir produtos como álcool 70%, sabão, água sanitária, produtos de desinfecção no geral. Esse tipo de ação normalmente não tem amparo naquelas agências, mas, pode ser acionada pela AUF. Propomos à AUF a aquisição desses materiais, utilizando a própria estrutura da universidade, já que dentro da UFPB temos laboratórios que produzem itens sanitizantes e pensamos exatamente nessa maximização. O laboratório de sanitizantes tem atendido especialmente hospitais, mas também estão abertos para esse diálogo com o Observatório a fim de atender essas populações.
Então tem uma parte desse recurso que vai ser para compra desses materiais. Há outra que é para compra de EPI’s para quem está lidando diretamente com sintomáticos de Covid-19 e também existe uma outra que é para a constituição de uma rede de costureiras, em que podemos resolver dois problemas: a necessidade de materiais de proteção e a geração de renda para essas pessoas que vão costurar as máscaras, já que hoje sabemos que muitos perderam suas fontes de renda. A rede de costureiras pretende tanto ser um espaço de troca entre elas quanto de visibilidade dos produtos produzidos.
Quais têm sido os principais impactos das ações do observatório? Esse projeto, e outros projetos semelhantes no âmbito das Instituições de Ensino Superior, conseguem impactar as políticas públicas locais?
Rita de Cássia – Sim, de forma muito importante! A universidade tem mostrado uma capacidade de resposta e de impacto muito positivo em relação aos efeitos do Covid-19. No âmbito do observatório, o conjunto de ações desenvolvidas (monitoramento, notas técnicas, avaliação de dados, ações diretas, elaboração de campanhas e produção de informações) tem alcançado um número significativo de famílias atingidas pela pandemia, além de auxiliar o desenvolvimento de políticas públicas locais tanto no âmbito dos municípios e do Estado. Outras iniciativas desenvolvidas na UFPB, como as atividades do laboratório de Sanitizantes (que tem produzido itens de higienização), a Agência de Inovação Tecnológica (que desenvolveu um projeto de respirador), o Centro de Energias Alternativas e Renováveis (que produziu Face Shields) entre outros projetos da UFPB tem demonstrado um alcance muito positivo e necessário nesse momento. Agora, evidentemente, que para maximizar o impacto das ações precisamos mais do que nunca de gestores públicos alinhados com o discurso científico e dispostos a implementar as medidas necessárias ao combate da pandemia. E, felizmente, no contexto da Paraíba temos encontrado cooperação para alcançarmos esses objetivos.
Como você avalia, de forma geral, a atuação das Universidades nesse momento de crise provocada pela pandemia do COVID-19?
Rita de Cássia – Esse movimento tem sido muito interessante porque a gente vinha de um longo processo de questionamento do lugar das universidades, questionamento da ciência e da importância dela para a sociedade como um todo. Por questões políticas, nos últimos anos a universidade se tornou, digamos assim, o corner de ataques e de insinuações difamatórias. Na verdade, a universidade é um lugar, historicamente, de produção de conhecimento, de pesquisa e de fortalecimento da ação social. Nesse contexto, estávamos recebendo uma campanha altamente difamatória. O professor, que sempre foi uma figura reconhecida como um batalhador, produtor de conhecimento e que forma positivamente as pessoas, virou a figura de um professor ameaçador e isso não somente na educação básica, mas também no ensino superior.
E o que a pandemia veio a revelar foi a capacidade de mobilização e a capacidade de ação da universidade. No caso dos respiradores, por exemplo, que vinham da China e custavam milhares de reais, a UFPB desenvolveu um projeto que custa menos de 500 reais. A USP desenvolveu outro projeto de respirador, o ITA também, e isso demonstra a capacidade de resposta. Foram desenvolvidos também novos testes e diagnósticos; mobilizadas redes locais para implementação de ações de combate a pandemia. Temos o mapeamento, por exemplo, do avanço do coronavírus entre as populações indígenas na bacia do Rio Amazonas. É incrível você conseguir mapear comunidades como São Paulo de Olivença, lá no Alto Solimões, comunidade no Alto Rio Negro, beiras de igarapés. Isso é somente porque temos uma rede de pesquisadores que estão envolvidos com essas populações e que estão monitorando isso. Então a situação crítica da pandemia mostrou que a universidades possuem uma capacidade de mobilização e de criação, e isso a gente vê de norte a sul do país. São experiências muito exitosas.
Falando especificamente da UFPB, a gente viu o surgimento de muitas ações bacanas, como o laboratório de sanitizantes (mencionado anteriormente), que rapidamente respondeu à falta de produção de álcool em gel e álcool 70. Há uma outra equipe que estava fabricando as faces shields, que estavam produzindo EPI’s em impressoras 3D. Temos também o Observatório Antropológico com a ideia de mapear o avanço entre populações tradicionais e buscar desenvolver ações de fortalecimento ao combate da pandemia entre os grupos de maior vulnerabilidade. Portanto, é uma capacidade de articulação de resposta muito positiva, que só mostra a importância da universidade pública e do investimento em ciência não somente nesse tempo, porque se hoje fomos capazes de realizar essas ações foi porque tivemos recursos humanos e estrutura física desenvolvidos anteriormente.
Então, vemos a importância da gente seguir formando estudantes, fortalecendo os laboratórios de pesquisa, fortalecendo as ações da universidade como um todo, no tripé que é a universidade – ensino, pesquisa e extensão. Não é somente pensar na atividade acadêmica como uma atividade de pesquisa ou de retorno imediato de capital. Essa ênfase de que a universidade precisa responder prioritariamente às necessidades do mercado não é compatível. A universidade precisa de autonomia para vislumbrar por onde a ciência pode e deve avançar, uma ciência ética e politicamente comprometida, que é o que a gente tem visto nesse momento e da qual eu muito me orgulho de fazer parte através do observatório e de ver também outros colegas engajados nesse mesmo horizonte político.